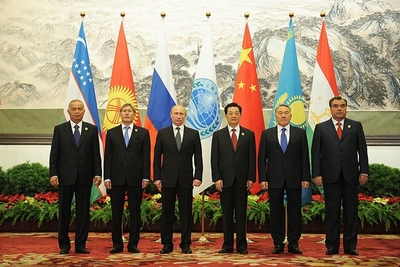O maior perigo para a humanidade: nossa recorrente paixão pelo autoritarismo
É inegável que, nos dias de hoje, ditadura, intervencionismo e socialismo são extremamente populares. Nenhum argumento lógico parece conseguir enfraquecer essa popularidade. O fanatismo impede que os ensinamentos da teoria econômica sejam ouvidos, a teimosia impossibilita qualquer mudança de opinião e a experiência histórica não serve de base para nada.
Para compreender as raízes dessa rigidez mental, devemos nos lembrar de que as pessoas sofrem e se sentem infelizes e frustradas porque as coisas nem sempre se passam da maneira como elas gostariam. O homem nasce como um ser egoísta, um ser não-sociável, e é só com a vida que ele aprende que sua vontade não é a única nesse mundo; existem outras pessoas que também têm suas vontades. A vida e a experiência irão lhe ensinar que, para realizar os seus planos, ele terá de encontrar o seu lugar na sociedade, terá de aceitar as vontades e os desejos de outras pessoas como um fato consumado, e terá de se ajustar a esses fatos se quiser chegar a algum lugar.
A sociedade não é aquilo que o indivíduo gostaria que fosse. Todo indivíduo tem a respeito de seus conterrâneos uma opinião menos favorável do que a que tem sobre si próprio. Ele se julga possuidor do direito natural de ocupar na sociedade um lugar melhor do que aquele que efetivamente ocupa. Ele se julga digno de estar em uma classe social mais elevada. Só que diariamente o presunçoso — e quem está inteiramente livre da presunção? — sofre novas decepções. E diariamente ele aprende, nem sempre de maneira pacífica e corriqueira, que existem outras vontades além da sua.
Para se blindar dos efeitos mentalmente devastadores destas seguidas decepções, o neurótico se refugia em sonhos encantados. Mais especificamente, ele sonha com um mundo no qual apenas a sua vontade é decisiva e é implantada sem restrições. Neste seu mundo onírico, ele é o ditador. Só aquilo que tiver a sua aprovação pode acontecer. Somente ele pode dar ordens; os outros apenas obedecem. Sua razão é suprema.
Neste mundo secreto de ilusões, o neurótico pensa ser um César, um Genghis Khan ou um Napoleão. Mas, na vida real, quando fala com os seus conterrâneos, tem de abaixar a cabeça e ser mais modesto. Sendo assim, perante essa sua irremediável insignificância, ele tem de se contentar em apoiar uma ditadura comandada por outra pessoa. Não importa se tal ditadura seja em seu próprio país ou em um outro distante: em sua mente, este ditador está ali apenas para efetuar as suas (do neurótico) vontades. Trata-se de uma mistura de psicopatia com megalomania.
Nenhum indivíduo jamais apoiou uma ditadura que fizesse coisas opostas às que ele considera certas. Quem apóia uma ditadura o faz por achar que o ditador está fazendo o que, na opinião deste indivíduo, tem de ser feito. Quem apóia ditaduras tem sempre em mente o desejo irrefreável de dominar seus conterrâneos de forma irrestrita, e impor a eles todas as suas vontades — ainda que tal
serviço seja feito por outra pessoa.
O defensor de ditaduras costuma ter um carinho específico pela expressão "planejamento econômico" — ou "economia planejada" —, a qual, particularmente nos dias de hoje, é um pseudônimo de socialismo. Neste arranjo, qualquer coisa que as pessoas queiram fazer tem de ser primeiramente aprovada e planejada. Estes que, assim como Marx, rejeitam a "anarquia da produção" e pretendem substituí-la pelo "planejamento", desprezam profundamente a livre iniciativa, as vontades e os planos das outras pessoas. Somente uma vontade deve prevalecer, somente um
plano deve ser implementado: aquele que tem a aprovação do neurótico; o plano que ele considera correto, o único plano. Qualquer resistência deve ser subjugada e sobrepujada; nada deve impedir o neurótico de tentar ordenar o mundo de acordo com seus próprios planos. Todos os meios que façam prevalecer a suprema sabedoria do lunático devem ser utilizados.
Essa é a mentalidade das pessoas que, certa vez, em uma exposição das pinturas de Manet em Paris, exclamaram: "a polícia não deveria permitir isso!" Essa é a mentalidade das pessoas que constantemente bradam: "deveria haver uma lei contra isso!"
E, quer elas admitam ou não, esta é exatamente a mentalidade de todos os intervencionistas, socialistas e defensores das ditaduras. Há apenas uma coisa que eles odeiam mais do que o capitalismo: um intervencionismo, um socialismo ou uma ditadura que não corresponda a todas as suas vontades. Daí a briga apaixonada entre comunistas e nazistas; entre os partidários de Trotsky e os de Stalin; entre os seguidores de Strasser e os de Hitler.
A liberdade e o sistema econômico
O principal argumento contra a proposta de se instituir um regime socialista é o de que, no sistema socialista, não há espaço para a liberdade individual. Socialismo, argumenta-se, é o mesmo que escravidão. Não há como negar a veracidade desse argumento. Onde o governo controla todos os meios de produção, onde o governo é o único empregador e tem o direito de decidir que treinamento as pessoas deverão receber, onde e como deverão trabalhar, o indivíduo não é livre. Tem o dever de obedecer e não tem direitos.
Os defensores do socialismo nunca conseguiram apresentar uma refutação efetiva a esse argumento. Retrucam dizendo apenas que, na economia de mercado, há liberdade apenas para os ricos, e não para os pobres; e que, por uma liberdade desse tipo, não valeria a pena renunciar às supostas vantagens do socialismo.
Ocorre que os homens são diferentes, desiguais. E sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, menos em outro. E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas outras pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor de seu achado. Alguns capitalistas que ousam perscrutar o futuro, que se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer: "são uns loucos", mas deixarão de dizê-lo quando constatarem que o empreendimento que qualificavam de absurdo ou loucura está florescendo, e que toda gente está feliz por comprar seus produtos.
No sistema ditatorial marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve primeiro ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando — ou o ditador supremo em pessoa — tem o poder de decidir. E se essas pessoas — por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou de instrução — forem incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado.
Para analisar essas questões devemos, em primeiro lugar, entender o verdadeiro significado da palavra liberdade. Liberdade é um conceito sociológico. Não há, na natureza ou em relação à natureza, nada a que se possa aplicar esse termo. Liberdade é a oportunidade concedida ao indivíduo pelo sistema social para que ele possa modelar sua vida segundo sua própria vontade. Que as pessoas tenham que trabalhar e produzir para poder sobreviver é uma lei da natureza; nenhum sistema social pode alterar esse fato. Que o rico possa viver sem trabalhar não diminui em nada a liberdade daqueles que não tiveram a sorte de estar nessa posição afortunada. Em uma economia de mercado, naquela em que há liberdade de empreendimento, e ausência de privilégios e protecionismos estatais, a riqueza de um indivíduo representa a recompensa concedida pela sociedade pelos serviços prestados aos consumidores no passado. E esta riqueza só pode ser preservada se ela continuar a ser utilizada — isto é, investida — no interesse dos consumidores.
Que a economia de mercado recompense generosamente aquele que se mostrou capaz de bem servir aos consumidores é algo que não causa nenhum dano aos consumidores. Ao contrário, só os beneficia. Nada, nesse processo, é tomado do trabalhador, e muito lhe é proporcionado, o que lhe permite aumentar sua produtividade do trabalho. A liberdade do trabalhador que não tem propriedades está no seu direito de escolher o local e o tipo de seu trabalho que quer. Ele não está sujeito às arbitrariedades de um senhor de engenho que o tem como vassalo. Ele simplesmente vende os seus serviços no mercado. Se um empreendedor se recusar a lhe pagar o salário correspondente às condições do mercado, ele encontrará outro empregador disposto a, no seu próprio (do empregador) interesse, lhe pagar o salário de mercado. O trabalhador não deve subserviência e obediência ao seu empregador; ele deve ao seu empregador apenas a prestação de serviços. Ele recebe seu salário não como um favor, mas sim como uma recompensa de que é merecedor.
Os pobres também têm a possibilidade, em uma sociedade capitalista, de se fazer pelo seu próprio esforço. Isso não ocorre apenas às atividades comerciais. A maioria das pessoas que hoje ocupa uma posição de destaque nas profissões liberais, nas artes e na ciência começou a carreira na pobreza. Entre os líderes e os vencedores, muitos são originários de famílias pobres. Quem quer ser bem-sucedido, qualquer que seja o sistema social, terá que vencer a apatia, o preconceito e a ignorância. Não se pode negar que o capitalismo oferece essa oportunidade.
Em uma economia capitalista, o mercado é um corpo social; é o corpo social por excelência. Todos agem por conta própria; mas as ações de cada um procuram satisfazer tanto as suas próprias necessidades como também as necessidades de outras pessoas. Ao agir, todos servem seus concidadãos. Por outro lado, todos são por eles servidos. Cada um é ao mesmo tempo um meio e um fim; um fim último em si mesmo e um meio para que outras pessoas possam atingir seus próprios fins.
Todos os homens são livres; ninguém tem de se submeter a um déspota. O indivíduo, por vontade própria, se integra num sistema de cooperação. O mercado o orienta e lhe indica a melhor maneira de promover o seu próprio bem estar, bem como o das demais pessoas. O mercado comanda tudo; por si só coloca em ordem todo o sistema social, dando-lhe sentido e significado.
O mercado não é um local, uma coisa, uma entidade coletiva. O mercado é um processo, impulsionado pela interação das ações dos vários indivíduos que cooperam sob o regime da divisão do trabalho.
A reiteração de atos individuais de troca vai dando origem ao mercado, à medida que a divisão de trabalho evolui numa sociedade baseada na propriedade privada.
A economia de mercado, em princípio, não respeita fronteiras políticas. Seu âmbito é mundial. O mercado torna as pessoas ricas ou pobres, determina quem dirigirá as grandes indústrias e quem limpará o chão, fixa quantas pessoas trabalharão nas minas de cobre e quantas nas orquestras filarmônicas. Nenhuma dessas decisões é definitiva: são revogáveis a qualquer momento. O processo de seleção não para nunca.
Atribuir a cada um o seu lugar próprio na sociedade é tarefa dos consumidores, os quais, ao comprarem ou absterem-se de comprar, estão determinando a posição social de cada indivíduo. Os consumidores determinam, em última instância, não apenas os preços dos bens de consumo, mas também os preços de todos os fatores de produção. Determinam a renda de cada membro da economia de mercado. São os consumidores e não os empresários que basicamente pagam os salários ganhos por qualquer trabalhador.
Se um empreendedor não obedecer estritamente às ordens do público tal como lhe são transmitidas pela estrutura de preços do mercado, ele sofrerá prejuízos e irá à falência. Outros homens que melhor souberam satisfazer os desejos dos consumidores o substituirão.
Os consumidores prestigiam as lojas nas quais podem comprar o que querem pelo menor preço. Ao comprarem e ao se absterem de comprar, os consumidores decidem sobre quem permanece no mercado e quem deve sair; quem deve dirigir as fábricas, as fornecedoras e as distribuidoras. Enriquecem um homem pobre e empobrecem um homem rico. Determinam precisamente a quantidade e a qualidade do que deve ser produzido. São patrões impiedosos, cheios de caprichos e fantasias, instáveis e imprevisíveis. Para eles, a única coisa que conta é sua própria satisfação. Não se sensibilizam nem um pouco com méritos passados ou com interesses estabelecidos.
A economia de mercado, ou capitalismo, como é comumente chamada, e a economia socialista são mutuamente excludentes. Não há mistura possível ou imaginável dos dois sistemas; não há algo que se possa chamar de economia mista, um sistema que seria parcialmente socialista. A produção ou é dirigida pelo mercado, ou o é por decretos de um czar da produção, ou de um comitê de czares da produção. A economia de mercado é o produto de um longo processo evolucionário. É o resultado dos esforços do homem para ajustar sua ação, da melhor maneira possível, às condições dadas de um meio ambiente que ele não pode modificar. É, por assim dizer, a estratégia cuja aplicação permitiu ao homem progredir triunfalmente do estado selvagem à civilização.
O progresso é sempre um deslocamento do velho pelo novo. Progresso sempre quer dizer mudança. Nenhum planejamento econômico pode planejar o progresso, nenhuma organização pode organizá-lo. O progresso é a única coisa que desafia quaisquer limitações e controles. A sociedade e o estado não podem promover o progresso. O capitalismo também não pode fazer nada pelo progresso. Porém, e isso é já bastante, o capitalismo não coloca barreiras intransponíveis ao progresso. Uma sociedade socialista se tornaria absolutamente rígida, pois tornaria o progresso impossível.
O intervencionismo não abole por completo todas as liberdades dos cidadãos. Porém, a cada nova medida intervencionista implantada, uma fatia importante de liberdade individual é abolida e, consequentemente, a atividade econômica é restringida.
O fato inegável
O que tem melhorado a situação das pessoas, o que tem dado a elas melhores condições de vida, e o que tem criado todas aquelas coisas que hoje consideramos como o orgulho das realizações humanas, não foram declamações de nobres intenções, nem discursos sobre justiça social, e nem sonhos sobre um mundo melhor — e muito menos efetivos esforços para se implantar o "mundo melhor" pela força das armas. O que possibilitou todas estas coisas foi o empenhado trabalho diário das pessoas, cujos esforços foram direcionados para melhorar suas próprias condições de vida por meio do trabalho duro, fazendo coisas que eram desconhecidas em épocas passadas e que eram desconhecidas até mesmo por elas próprias em tempos anteriores recentes.
A história da tecnologia e do comércio fornece inúmeros exemplos que confirmam isso. No passado, havia um considerável intervalo de tempo entre o surgimento de algo até então completamente desconhecido e sua popularização no uso cotidiano. Algumas vezes, passavam-se vários séculos até que uma inovação se tornasse amplamente aceita por todos — ao menos dentro da órbita da civilização ocidental. Pense na lenta popularização do uso de garfos, sabonetes, lenços, papeis higiênicos e inúmeras outras variedades de coisas.
Desde seus primórdios, o capitalismo demonstrou uma tendência de ir encurtando esse intervalo de tempo, até ele finalmente ser eliminado quase que por completo. Tal fenômeno não é uma característica meramente acidental da produção capitalista; trata-se de algo inerente à sua própria natureza. A essência do capitalismo é a produção em larga escala para a satisfação dos desejos das massas. Sua característica distintiva é a produção em massa
Os discípulos de Marx sempre se mostraram muito ávidos para descrever em seus livros os "inenarráveis horrores do capitalismo", os quais, como seu mestre havia prognosticado, resultam "de maneira tão inexorável como uma lei da natureza" no progressivo empobrecimento das "massas". O preconceito anticapitalista deles impedia que percebessem o fato de que o capitalismo tende, com o auxílio da produção em larga escala, a eliminar o notável contraste que há entre o modo de vida de uma elite afortunada e o modo de vida de todo o resto da população de um país. O abismo que separava o homem que podia viajar de carruagem e o homem que ficava em casa porque não tinha o dinheiro para a passagem foi reduzido à diferença entre viajar de avião e viajar de ônibus.
Que jamais nos aconteça
Não permitamos jamais que aquelas pessoas que dizem que tudo neste arranjo é ruim, que a propriedade privada é a origem de todos os malefícios e desigualdades, e que a única ação correta a ser tomada é a busca do "mundo melhor" pela imposição de medidas coercivas e ditatoriais adquiram poder.
Se há uma coisa que a história pode nos ensinar é que nenhuma nação jamais conseguiu criar uma civilização superior sem a propriedade privada dos meios de produção. E a prosperidade só pode ser encontrada onde prevalece a propriedade privada dos meios de produção.
Se algum dia a nossa civilização desaparecer, não terá sido por uma inevitabilidade; não terá sido porque ela já estava fadada a esse trágico desfecho. Terá sido, isso sim, porque as pessoas se recusaram a aprender com a teoria e com a história. Não é o destino que determina o futuro da sociedade humana, mas sim o próprio homem. O declínio da civilização ocidental não é uma manifestação da vontade divina, algo que não pode ser evitado. Se ocorrer, terá sido o resultado de uma política que nunca deveria ter sido sequer cortejada.
Ludwig von Mises foi o reconhecido líder da Escola Austríaca de pensamento econômico, um prodigioso originador na teoria econômica e um autor prolífico. Os escritos e palestras de Mises abarcavam teoria econômica, história, epistemologia, governo e filosofia política. Suas contribuições à teoria econômica incluem elucidações importantes sobre a teoria quantitativa de moeda, a teoria dos ciclos econômicos, a integração da teoria monetária à teoria econômica geral, e uma demonstração de que o socialismo necessariamente é insustentável, pois é incapaz de resolver o problema do cálculo econômico. Mises foi o primeiro estudioso a reconhecer que a economia faz parte de uma ciência maior dentro da ação humana, uma ciência que Mises chamou de "praxeologia".