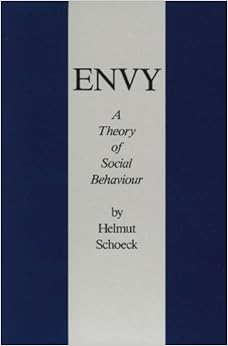O primeiro encontro tem cheiro a maresia: Welles caminhava pela praia, conversando com um potencial investidor russo sobre os méritos do próximo filme. Churchill, que tal como Welles era fisicamente impossível de ignorar, banhava-se nas ondas. Quando o diretor passou pelo ex-premiê britânico, Churchill saudou-o, Welles retribuiu a honrosa saudação e depois continuou a caminhar.
O segundo encontro teve lugar nessa mesma noite, no bar do hotel onde ambos estavam hospedados. Orson Welles aproximou-se de Churchill e, com gratidão sincera, disse-lhe "muito obrigado". Churchill, surpreso, indagou o motivo do agradecimento. Orson Welles explicou: o investidor russo tinha ficado tão impressionado com o encontro matinal entre Welles e o grande herói da Segunda Guerra que já ponderava seriamente passar o cheque.
Zé Otavio
O terceiro encontro foi no dia seguinte, em pleno café da manhã. Churchill já estava à mesa quando Welles entrou na sala com o seu comparsa russo. Assim que Churchill o avistou, levantou-se da cadeira, olhou com admiração o autor de "Cidadão Kane" e depois fez uma longa vênia.
Esta hilariante história revela dois fatos importantes sobre Churchill, um dos mitos do século 20, que morreu 50 anos atrás.
O primeiro, óbvio, é o seu incomparável senso de humor. Basta flanar por uma livraria inglesa e encontrar livros para todos os gostos e carteiras, nos quais a espirituosidade de Churchill está plasmada em páginas e páginas de ditos célebres. Alguns, provavelmente apócrifos, já entraram na corrente sanguínea da história britânica. Como a crítica rude da parlamentar lady Astor ("Winston, você não passa de um bêbado!") e a resposta dele, rude mas hilária ("E você, minha querida, é feia. Mas amanhã eu já estarei sóbrio").
Ou, então, um novo confronto entre ambos. Ela: "Se eu fosse sua mulher, despejava veneno no seu chá". Ele: "E se eu fosse casado consigo, bebia-o".
A pergunta imediata que devemos formular quando confrontados com esta verve é saber se Churchill teria lugar, hoje, nos nossos parlamentos e na nossa vida política previsível e rasteira. Pergunta retórica, claro. Na tirania politicamente correta que arruinou até os melhores espíritos, Churchill não sobreviveria para contar.
Se juntarmos ao seu humor corrosivo um estilo de vida que, digamos, não era propriamente saudável, o quadro de ostracismo fica completo. Churchill fumava. Bebia. E, sobre o exercício físico, nova máxima memorável: "O segredo da minha longevidade? Ginástica. Nunca a pratiquei".
E, de fato, era impossível praticar. Peter Clarke, que dedicou a Churchill um delicioso tratado ("Mr. Churchill's Profession", Bloomsbury, 2012), pinta o seguinte retrato do seu dia "normal": despertar às 8 horas, café da manhã na cama, jornais na cama, burocracias políticas na cama. Depois, banho de imersão (o primeiro do dia), reuniões, almoço, sesta, hora do chá (por "chá", leia-se uísque e soda); finalmente, jantar (e por "jantar", leia-se champanhe, vinho do Porto, brandy). A partir das 11, quando qualquer mortal já estaria derreado e a mendigar o leito, então, sim, começava a produção literária. Que durava até as três ou quatro da madrugada.
Mas o humor de Churchill, e as suas desgovernadas rotinas, não nos devem cegar para um segundo fato: as profundas fragilidades de um homem que, durante toda a vida, foi perseguido por uma ideia funesta - a certeza de que a sua carreira seria um fracasso só comparável ao fracasso político do pai.
Lord Randolph Churchill (1849-95) fora um nome promissor no Partido Conservador britânico e, antes da sua fragorosa queda, muitos acreditavam que ele seria o líder natural da tribo. Mas um temperamento histriônico (para usar um eufemismo) levou-o a demitir-se do governo de Salisbury (por discordar da política fiscal dos "tories"). Para ele, o gesto seria apenas mais um número de teatro, sem grandes consequências.
Não foi para Salisbury, que aceitou a demissão e, por arrastamento, colocou um ponto final na carreira de Randolph. Sifilítico e deprimido, o pai de Winston acabaria por morrer aos 46 anos no esquecimento político.
Foi essa a sombra que pairou sobre Churchill e que o transformou em "a man in a hurry" [um homem com pressa]. Sabemos que ele não morreu aos 46 anos. Mas são vários os historiadores -Gertrude Himmelfarb é apenas um exemplo- que colocam uma questão interessante: o que teria sucedido à sua reputação se a morte tivesse chegado, por exemplo, em 1939?
A hipótese não é tão absurda assim: em 1939, Churchill contava já com uns respeitáveis 65 anos. Será que hoje estaríamos a recordar a data da sua morte e a grandeza do seu legado? Dificilmente.
Pior ainda: cumprindo os seus piores presságios, Churchill não seria muito diferente do pai -alguém que prometera muito mas que conseguira muito, muito pouco. E, nas biografias menores da política britânica, seria possível ler, sem grande pompa, que Winston Churchill fora um parlamentar e escritor, nascido a 30 de novembro de 1874 no seio de uma importante família aristocrática (os Marlborough) e em palácio imponente, que fica a poucos quilômetros de Oxford -o Palácio de Blenheim.
Biógrafos mais devotos poderiam acrescentar que a sua infância não foi propriamente feliz. Com um pai distante (no sentido físico e emocional da palavra), nem a mãe, a americana Jennie Jerome, supriu as carências afetivas do filho: rezam as crônicas que Mrs. Churchill teria tanto de beleza como de "coquetterie". Se existiu um elo emocional forte, ele foi estabelecido entre Winston e a ama, Mrs. Everest.
Seguiram-se os estudos. Faz parte da lenda churchilliana, provavelmente alimentada por alunos relapsos, que o jovem Winston era um aluno relapso. Talvez fosse, se estivermos a falar de matemática ou latim. Mas a lenda não sobrevive ao gosto que o rapaz começou a mostrar por história e, em especial, pela história da Inglaterra.
Apesar de tudo, acabaria por ser aceito na Academia Militar de Sandhurst, e os anos posteriores como soldado revelaram-se importantes por dois motivos assaz heterodoxos: a leitura e a escrita.
Nas suas comissões em Cuba ou na África do Sul, os hábitos de leitura prolongaram as inclinações naturais do jovem estudante. Leu Platão, Aristóteles, Adam Smith. E absorveu sobretudo os grandes mestres da língua inglesa, em especial Macaulay e Edward Gibbon, que lhe emprestaram para o resto da vida uma cadência solene no estilo e uma visão grandiosa sobre a nobreza da civilização ocidental.
Por outro lado, se é verdade que toda a arte começa por um exercício de imitação, a leitura levou-o à escrita -e o jornalismo tornou-se sua primeira casa. Escreveu reportagens sobre as operações militares em que participava para os principais jornais londrinos, como o "Daily Telegraph", e alguns desses escritos, pela qualidade e intensidade da prosa, começaram a conquistar leitores e seguidores.
Essa ascensão seria reforçada por alguns acontecimentos no terreno, que o transformaram em celebridade: uma espetacular fuga da prisão de Pretória, na África do Sul, onde fora feito prisioneiro em plena Guerra dos Boers, rendeu mais um relato, alguma independência financeira e abriu-lhe igualmente as portas da política.
ASCENSÃO E QUEDA
Winston Churchill foi eleito deputado conservador em 1900 -e o que se segue são escaladas íngremes e descidas a pique. Até 1940.
Em 1904, por exemplo, mudaria de partido pela primeira vez, trocando os Conservadores pelos Liberais. Esse gesto ("to cross the floor", para usar a expressão devida para mudança de partido no Parlamento inglês) seria repetido em sentido inverso, duas décadas depois, quando os Conservadores o receberam de volta nas suas fileiras. Incoerência política pura?
Não creio. Digo até mais: as trocas de partido, que ficaram superficialmente gravadas como sinal de oportunismo, nasceram de uma coerência política séria. Em 1904, o que o fez afastar-se dos Conservadores foram as políticas econômicas protecionistas do partido, que lhe pareciam uma negação da herança "liberal" deixada por lorde Salisbury. Só quando os Conservadores abandonaram tais práticas, regressando aos princípios de livre comércio, é que Churchill regressou à sua primeira morada.
Mas, se a incoerência e o oportunismo político de Churchill parecem uma grosseira simplificação, difícil será salvá-lo do desastre de Gallipoli, na Primeira Guerra Mundial. Não vale a pena perder tempo com a racionalidade (ou não) da campanha naval e terrena para capturar Constantinopla aos otomanos. Os 35 mil britânicos que perderam a vida foram a primeira mancha inapagável do seu currículo. Uma mancha que os Conservadores não esqueceram quando o liberal Herbert Asquith (1852-1928) firmou um governo de coalização com eles. A cabeça de Winston -o "traidor" de 1904- foi a primeira exigência dos "tories". Era o seu fim como Primeiro Lorde do Almirantado, uma espécie de ministro da Marinha Real Britânica. Seria também o seu fim político, em premonitória semelhança com o pai?
Churchill acreditou que sim. Mas o destino ainda não tinha saldado todas as contas com ele. Uma década depois, e sob a liderança conservadora de Stanley Baldwin (1867-1947), Churchill regressava -e regressava para a pasta das Finanças. Era uma segunda oportunidade. Mas, "hélas", revelou-se também uma segunda queda: o regresso da libra ao padrão-ouro arrastou a economia para o abismo, com desemprego maciço, caos social, greves -e a vitória dos Trabalhistas em 1929. Estava novamente fora do governo.
A BESTA NAZISTA
Em 1930, Churchill contava 56 anos. Em termos puramente numéricos, ultrapassara a longevidade do pai. Mas, politicamente, a sua carreira política parecia seguir o mesmo caminho que a do progenitor. O próprio sabia disso, sobretudo quando a depressão (o seu "black dog") regressava para o assombrar. Mudara duas vezes de partido. Fora responsável por desastres militares e econômicos que não seriam esquecidos ou perdoados. Aos olhos dos seus pares, era um relíquia de tempos vitorianos -uma alma inconstante, ou coisa pior.
Mas a década de 1930 não é apenas uma longa travessia pelo deserto. Porque, mesmo no deserto, é possível vislumbrar ao longe os contornos de um oásis -não um oásis ilusório, mas real, demasiado real: na Alemanha, um certo Partido Nacional-Socialista preparava-se para tomar o poder.
O partido tinha linguagem belicista e abertamente antissemita, e espantava Churchill a relativa indiferença das elites políticas britânicas perante a tempestade que vinha a caminho. O entendimento doméstico, sobretudo depois da Grande Depressão de 1929, é que o Reino Unido tinha assuntos mais prementes em que pensar.
E, além disso, se Hitler era um feroz anticomunista, disposto a combater a influência nefanda do bolchevismo, melhor ainda.
Churchill nunca comprou essa falaciosa versão de que os inimigos dos meus inimigos meus amigos são. A "besta nazista" deveria ser enfrentada pela sua intrínseca inumanidade e pela ameaça que ela representava para a civilização judaico-cristã.
Durante essa década, discursou sobre o assunto perante a indiferença (quando não o riso) dos seus pares. E, quando os "pacificadores" acreditavam que ainda era possível "paz no nosso tempo", a mensagem de Churchill era outra: o Reino Unido deveria rearmar-se e, por mais que isso horrorizasse os que ainda tinham a experiência da Primeira Guerra bem fresca na memória, preparar-se para a possibilidade de uma nova guerra.
Zé Otavio
Todos sabemos o que aconteceu em 1939: com a invasão da Polônia pelas tropas nazistas, a política de "pacificação" promovida por Neville Chamberlain (1869-1940) tinha falhado. A 10 de maio de 1940, Churchill era nomeado primeiro-ministro pelo rei George 6º. No momento mais negro da Europa, o filho chegara aonde não chegara o pai.
CINCO DIAS
Não será exagero afirmar que o destino do Reino Unido - e da Europa, e do Ocidente- foi decidido em cinco dias, em Londres, entre 24 e 28 de maio de 1940. O historiador John Lukacs, no seu "Cinco Dias em Londres" (Zahar, 2001) -uma preciosidade para qualquer interessado na matéria- explica com detalhes o que se passou no interior do Gabinete de Guerra. E oferece as duas escolas de pensamento que então estiveram em confronto.
A primeira foi capitaneada por lorde Halifax, para quem a melhor forma de lidar com a indestrutível Alemanha era encontrar uma qualquer forma de acomodação com Hitler. A proposta, racionalmente falando, fazia algum sentido: com a França de joelhos e os Estados Unidos ainda longe de qualquer participação militar, o Reino Unido estava só frente a Hitler. Além disso, se fosse possível garantir a paz, talvez o Império Britânico sobrevivesse também.
Nos primeiros dias, Churchill vacilou ante os argumentos de Halifax. Mas, a 28 de maio, no mais dramático discurso que o Gabinete de Guerra escutara, a posição do então premiê foi clara: as nações que caíram a lutar, disse ele, levantaram-se de novo. Mas aquelas que se renderam covardemente acabaram liquidadas para sempre. E acrescentou, com um toque de dramatismo gráfico: se o fim chegasse com a invasão alemã, que cada membro daquele gabinete lutasse até cair na sua própria poça de sangue. A retórica era Churchill "vintage". Que, obviamente, continuou no Parlamento, no rádio- a exortar os ingleses a lutarem -"nas praias, nos campos, nas ruas, nas montanhas"- e a nunca se renderem.
Em 1940, Churchill só tinha isso a oferecer: palavras. E palavras, às vezes, têm uma força devastadora.
*ARTISTA *
Quando olhamos para a vitória das potências aliadas em 1945, encontramos várias explicações para o feito. A participação americana a partir de 1941 foi crucial; o sacrifício soviético foi mais crucial ainda; e, por falar em União Soviética, a decisão de Hitler em rasgar o pacto de não-agressão Molotov-Ribbentrop e tentar o mesmo que Napoleão antes dele (a invasão russa), teve o mesmo desfecho: uma humilhante derrota. Mas em 1940, quando Londres combatia ainda sozinha, a guerra só não foi perdida porque Churchill era um brilhante leitor, escritor e ator.
Essa, pelo menos, é a tese do mais interessante livro sobre Churchill que surgiu nos últimos tempos para assinalar os 50 anos da morte. Intitula-se "The Literary Churchill" [Yale University Press, 528 págs., R$ 77,83 e-book], e o autor, Jonathan Rose, pretende mostrar como a política e a literatura estiveram intimamente ligadas na carreira do estadista. De tal forma que os seus objetivos políticos, e em especial a resistência face a Hitler, foram profundamente moldados pelos livros que ele lera e, não menos importante, pelas peças de teatro a que assistira.
Churchill era um "melodramático", como qualquer alma sensível formada na Inglaterra vitoriana e eduardiana. A palavra não deve ser vista como pejorativa. No melodrama, o mundo é percebido como uma luta entre contrários -o bem contra o mal, a justiça contra a injustiça. Mas é uma luta que, pela sua radicalidade e absolutismo moral, permite que o bem triunfe no fim. E há momentos históricos em que é aconselhável acreditar que tal acontece.
Essa mundividência acompanhou Churchill nas suas leituras de juventude. Mas também nas suas escritas de juventude, a começar pelo romance "Savrola" (1899), o único que publicou. O livro pode ser, como sustenta Jonathan Rose, "um dos piores romances do século 19". Mas ele revela também traços importantes sobre a formação moral e política de Churchill que seriam imprescindíveis nos anos posteriores.
Li "Savrola" com curiosidade arqueológica. E nele encontrei passagens que parecem ter sido escritas não no século 19 - mas depois de Churchill ter vencido Hitler em 1945. Superficialmente, o romance propõe-se narrar a história de uma república imaginária (Laurania), dominada por um ditador (Antonio Molara). Contra o ditador, encontramos o herói que dá nome ao romance (Savrola, ou seja, uma projeção óbvia do próprio Churchill) e que organiza um movimento armado contra o "despotismo militar" de Molara. Como afirma Jonathan Rose, e com razão, em "Savrola" o jovem autor escrevia "um melodrama antifascista" muito antes da chegada do fascismo.
Mas a formação de Churchill não se limitou aos livros que ele leu ou publicou. Ao mesmo tempo que compunha o seu "Savrola", o jovem escrevia um tratado de estética ("The Scaffolding of Rhetoric"), em que estabelecia as regras fundamentais do discurso público. São, no essencial, as regras que ele seguiu no Parlamento -essa verdadeira "Comédie Anglaise", como chamou Chips Channon (1897-1958), em comparação teatral com a Comédie Française -e, claro, quando liderou o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial.
Entre as regras, Jonathan Rose sublinha a preocupação do autor com "uma voz clara e sonora", uma cadência teatral capaz de ir desfiando uma narrativa em crescendo, e, recusando a tradição parlamentar de usar o latim e o grego como ornamentos do discurso, uma opção declarada por palavras inglesas, simples, poderosas e integradas em frases curtas.
Dito de outra forma: Churchill era, acima de tudo, um artista. E a política era a sua tela, o seu palco. O seu verdadeiro romance. Essa predisposição estética pode conduzir a lamentáveis resultados - e o caso de Hitler, ironicamente, ilustra esse ponto na perfeição. Porque Hitler era também um artista: na sua oratória, na sua teatralidade e na forma como moldou o povo alemão à luz da sua utopia rácica. O problema, para Hitler, foi ter encontrado, do outro lado do canal da Mancha, um artista maior e mais nobre do que ele: alguém que se preparara toda a vida para aquele "papel", naquele "palco", contra aquele "vilão".
Em "The Literary Churchill", Jonathan Rose relembra as palavras do guarda-costas do premiê, que relatou o deleite com que o velho Winston escutava no gramofone o ódio com que Hitler pronunciava o seu nome nos seus discursos. A questão não era apenas política. Era pessoal.
E, para derrotar Hitler, nada melhor que prometer "sangue, trabalho, lágrimas e suor". Nada melhor que dramatizar uma luta nas praias, nos campos, nas ruas. Nada melhor que engrandecer os pilotos ingleses que defenderam a ilha com a frase de efeito: "Nunca tantos deveram tanto a tão poucos".
Como escreveu o filósofo Isaiah Berlin (1909-97) em ensaio clássico sobre o líder ("Winston Churchill in 1940"), o tempo histórico tinha finalmente reconciliado o homem com o seu destino. A Churchill cabia-lhe agora reconciliar os ingleses com a sua poderosa "imaginação histórica" - e fazê-los acreditar na vitória.
24 DE JANEIRO
Homens excepcionais são necessários para tempos excepcionais. Mas talvez eles não sejam a melhor opção para tempos normais. Isso explica, em parte, a derrota eleitoral de Churchill em 1945. Em rigor, os ingleses não estavam cansados de Churchill, a quem deviam a liberdade e a vitória. Mas estavam cansados da guerra - e Churchill era também a memória dessa guerra.
Depois de perder as eleições para o trabalhista Attlee, ele ainda terá ouvido de Clementine Churchill, sua mulher e eterna confidente: "Isto é uma bênção disfarçada". Churchill, com típico humor, terá respondido: "Então está muito bem disfarçada". Ainda regressaria ao poder pelo voto popular em 1951. Mas resignaria em 1955.
E a morte? Que dizer da morte que sempre o perseguira toda a vida?
Numa manhã de sol (coisa rara em Oxford), saio do St. Antony's College, onde estou atualmente a viver, e decido visitar o Palácio de Blenheim, a imponente residência dos Marlborough, onde Churchill nasceu. Hoje, o palácio é uma espécie de Disneylândia para admiradores do ex-premiê.
Chegamos. Um pequeno trem conduz-nos à entrada principal (sim, é preciso um trem -e o trem tem nome: Winston, naturalmente). E, depois, é possível admirar o quarto do bebê, as primeiras roupas, algumas fotografias.
Na saída, uma gigantesca loja de "memorabilia" vende de tudo: livros, bustos, mais fotos. Os turistas invadem o palácio, passeiam pelos jardins e, no final, compram uma caneca com o rosto de Churchill.
Sentado na escadaria principal do palácio, acompanho as excursões e penso, uma vez mais, que tudo isto poderia nunca ter existido. Bastava que a Churchill estivesse reservado o mesmo destino do pai.
Sabemos hoje que não esteve. Para quem sempre acreditou que morreria jovem, chegar aos 90 é um belo argumento a favor da hipocondria.
Mas então olho para o céu e penso: se Deus é perfeito, então o seu sentido de humor também é. Winston Churchill morreu a 24 de janeiro de 1965. Não é um dia importante para nós. Mas era um dia muito importante para ele: o seu pai tinha morrido nesse exato dia, 70 anos antes.
Por: JOÃO PEREIRA COUTINHO, 38, escritor, cientista político e colunista da Folha, é autor de, entre outros, "As Ideias Conservadoras" (Três Estrelas). ilustração ZÉ OTAVIO
Publicado na Folha de SP